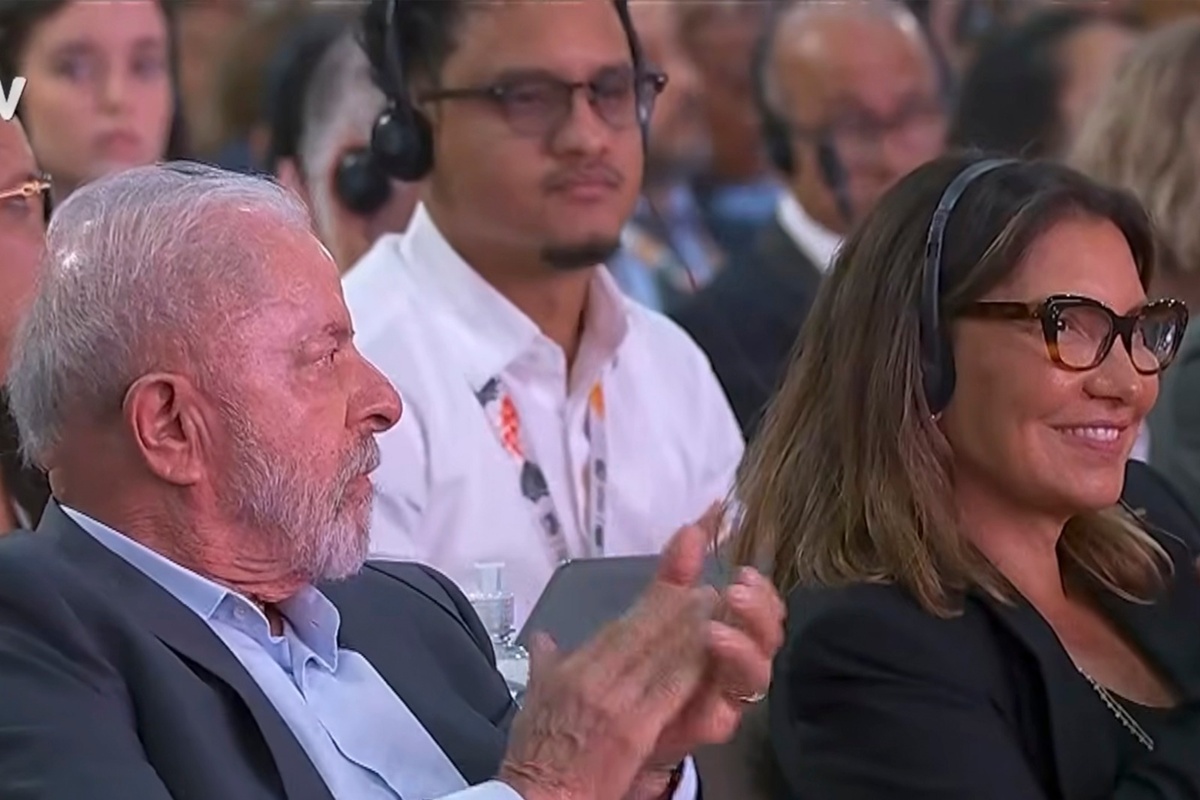Por Pedro Ernesto Macedo – Jornalista
Pouca gente entende isso, mas William Shakespeare continua sendo um dos grandes mestres da medicina — mesmo nunca tendo sido médico. Talvez exatamente por isso. Ele não tratava órgãos. Tratava gente. E gente não adoece só no corpo.
A medicina moderna gosta de separar. Corpo de um lado. Mente do outro. Emoção como detalhe. Shakespeare fazia o oposto: misturava tudo. Porque ele sabia, antes de qualquer tomografia, que “there is nothing either good or bad, but thinking makes it so”. Não é poesia bonita. É clínica pura. O pensamento molda o sofrimento. A interpretação muda o destino do corpo.
Shakespeare enxergava o ser humano em colapso — e não tinha medo disso. Onde a medicina muitas vezes tenta controlar, ele escancarava. Onde tentamos silenciar sintomas, ele perguntava: o que essa dor quer dizer?
Hamlet não está apenas refletindo sobre a vida. Ele está paralisado pela consciência. Sofre de um excesso de lucidez. Sabe demais. Pensa demais. E isso o impede de agir. Hoje chamaríamos isso de ansiedade existencial, talvez depressão funcional. Shakespeare chamava de tragédia humana.
Lady Macbeth não enlouquece por magia. Ela quebra por dentro. Lava as mãos porque a culpa não sai. “Out, damned spot!” não é teatro exagerado. É um retrato brutal de alguém que perdeu o eixo moral e paga com o corpo aquilo que a alma não suporta carregar.
Rei Lear não perde o juízo por idade. Ele perde porque perde vínculos. Perde identidade. Perde sentido. E quando isso acontece, o ser humano desmonta. Shakespeare entendeu, séculos antes da psiquiatria, que a mente não sobrevive sozinha.
Talvez o maior ensinamento de Shakespeare para a medicina seja este: nem toda dor quer ser curada — algumas querem ser ouvidas.
Ele sabia que o silêncio adoece mais do que o grito. Que negar sentimentos é um tipo lento de suicídio emocional. Que fingir força cobra juros altos.
Há uma frase que poderia estar em qualquer congresso de saúde mental hoje: “Give sorrow words; the grief that does not speak knits up the o’er-wrought heart and bids it break.”
Dê palavras à dor. Porque a dor muda quando ganha linguagem. Isso não é literatura. Isso é terapia.
Shakespeare também nos ensina algo incômodo para a medicina moderna: nem tudo precisa de solução imediata. Algumas dores fazem parte do processo de se tornar quem se é. Eliminar todo sofrimento talvez não seja saúde — talvez seja anestesia existencial.
Ele não romantizava a dor. Ele a respeitava. Mostrava suas consequências. Mostrava o preço de ignorá-la. E, acima de tudo, mostrava que viver sem sentido é mais perigoso do que qualquer doença diagnosticável.
Em tempos de burnout, ansiedade crônica, depressão silenciosa e gente funcionando no automático, Shakespeare continua atual porque ele não oferece atalhos. Ele oferece espelhos. E nem todo mundo suporta se ver.
A medicina que ignora Shakespeare corre o risco de se tornar eficiente demais e humana de menos. A saúde que não dialoga com a alma vira estatística. Protocolo. Número.
No fundo, Shakespeare nos lembra de algo simples e esquecido: o ser humano não foi feito apenas para sobreviver, mas para compreender a própria dor. E compreensão, às vezes, cura mais do que remédio.
Talvez por isso ele ainda incomode. Talvez por isso ele ainda seja necessário. Porque enquanto houver gente tentando entender o que sente, tentando sobreviver a si mesma, tentando dar nome ao caos interior, Shakespeare continuará sendo um médico clandestino da alma humana — sem jaleco, sem receita, mas com uma precisão que muitos diagnósticos ainda não alcançaram.